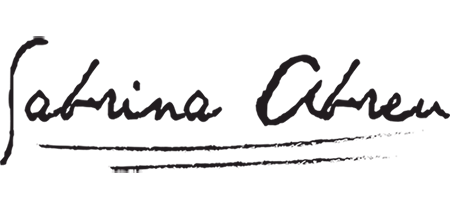Talvez a pandemia do coronavírus venha a ser lembrada como a face mais sombria do culto à juventude, que já dura mais de meio século. Quem sabe, com sorte, signifique também o início do fim do fenômeno cultural que primeiro colocou os jovens em evidência e não demorou muito até empurrar os mais velhos para as margens, criando um novo tipo de preconceito, o ageísmo. O fato de os idosos serem consideramos inferiores em nossa sociedade é o que permite a tanta gente minimizar a infecção e morte de quem tem acima de 60 anos. E a fazer isso, sem nenhum constrangimento, em voz alta. Nas palavras de Roberto Justus (ele mesmo sexagenário): “Vai matar velhinho e gente já doente”.
É preciso lembrar que a juventude foi, por assim dizer, inventada. Até o século 19, a norma era passar da infância diretamente à vida adulta, com responsabilidades ligadas ao trabalho e à religião, normalmente, tanto uma quanto a outra, herdada de geração a geração. Foi dois séculos atrás que forjaram um nome para a fase de maturação entre os anos de criança e de adulto. Mas só mais tarde, com o rock, Elvis, os Beatles, a popularização da calça jeans, a descoberta e disseminação da pílula anticoncepcional, a revolução sexual catalisada pelo novo remédio e uma cadeia de outros acontecimentos culturais e históricos ocorridos entre o fim da década de 1940 e os anos 1970, que o jovem foi originado como o conhecemos hoje. Nos anos seguintes, manifestações as mais diversas da moda e da música, como o grunge, o pop, o estilo esquálido e junk do “heroin chic look” ou o dia a dia saudável das blogueiras fitness ajudaram a cristalizar o conceito e a adoração em torno da juventude, que sobrevive até agora.

Como todos os outros principais fenômenos sociais do século 20, essa revolução também foi cooptada pelo mercado de consumo. Por mais que, inicialmente, o rock ou o movimento hippie fossem originalmente inseridos na contracultura, não tardou até que fossem usados para vender tênis e refrigerante. Foi por meio do consumo, e não pela rebeldia, que a juventude persistiu sendo adorada, ao chegarmos ao século 21. Caracterizada pela fluidez de idade, nosso tempo tem, ao contrário da época em que Elvis ou os Beatles ganhavam as paradas musicais pela primeira vez, limites menos rígidos para o comportamento de pessoas, de acordo com a faixa-etária. Somos “ageless”, porque podemos casar, ter filhos, trocar de profissão ou fazer um mochilão em diferentes fases. Para ser “ageless”, no entanto, é preciso ter poder de consumo. Sem dinheiro, como fazer intervenções estéticas ou participar de maratonas mundo afora? E é por ter acesso amplo aos bens e serviços que alguém como Roberto Justus não percebe o ridículo de sua fala, ao enxergar o outro como velhinho, ao não perceber o óbvio: ele é um idoso também. Não importa quantas intervenções estéticas tenham sido feitas em seu rosto, Jutus continua sendo, de acordo com os maiores infectologistas do mundo, parte do grupo de risco, junto a todas as pessoas com mais de 60 anos. A covid-19 não entende o conceito de ageless.
Os idosos foram enfrentados como inimigos, na metade do século passado, pois eram vistos pelos mais novos como senhores das guerras. Os movimentos pélvicos do twist e os riffs de guitarra vieram desafiar o sistema, logo após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Foi um escapismo necessário. Mais tarde, o ritmo se misturou a novas convulsões sociais e foi ao som do rock’n’roll que jovens se posicionavam contra outro conflito, a Guerra do Vietnã, de meados dos anos 1950 até meados da década de 70. Então, era a associação com um mundo em que jovens eram enviados a morrer por velhos que ditavam as regras o que motivava o embate entre gerações. Já no fim do século 20, as transformações tecnológicas, as quais a juventude nativa digital se adaptou com mais facilidade do que os idosos, impulsionou nova forma de discriminação.
A moda, a música, o esporte, a beleza, a inovação passaram são considerados, há tempos, “coisa de jovens”, quase que exclusividade deles. E, num mundo tão rápido e imagético, as qualidades e saberes dos mais velhos, as especificidades das vivências de cada faixa-etária não conseguem coexistir e receber apreciação mútua. O mundo binário nos impeliu a fazer uma escolha entre valorizar o idoso ou o jovem. E o jovem venceu.
A maior crise do século 21 é de saúde, é política, é estética. Ela expõe os erros de nossa polarização, a imoralidade das escolhas que um dia pareceram simples. Não se trata mais de colocar apenas mulheres e homens jovens nas capas de revistas e editoriais de moda. Não é mais uma questão de idolatrar objetos novos e descartar os antigos. A valorização das pessoas está em pauta. Emerge a questão de valorizar ou não as vidas (ou mortes) dos idosos tanto quanto a dos mais jovens — ou seja, aqueles que ainda têm muito tempo para trabalhar e para consumir. O inacreditável dilema que enfrentamos é se vale a pena impedir que se formem pilhas de cadáveres de idosos, tanto quanto lutaríamos para não haver cadáveres de jovens. Durante a maior crise do século 21, o temor é de que não tenhamos aprendido com as crises dos séculos anteriores. Mas, se aprendemos, aqueles que relativizam o valor da vida serão envergonhados pela história. E, com sorte, talvez surja, com esse remédio amargo uma sociedade que consiga valorizar de novo os idosos de nossas comunidades, protegendo-os de serem vítimas do vírus e do preconceito.